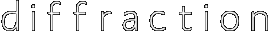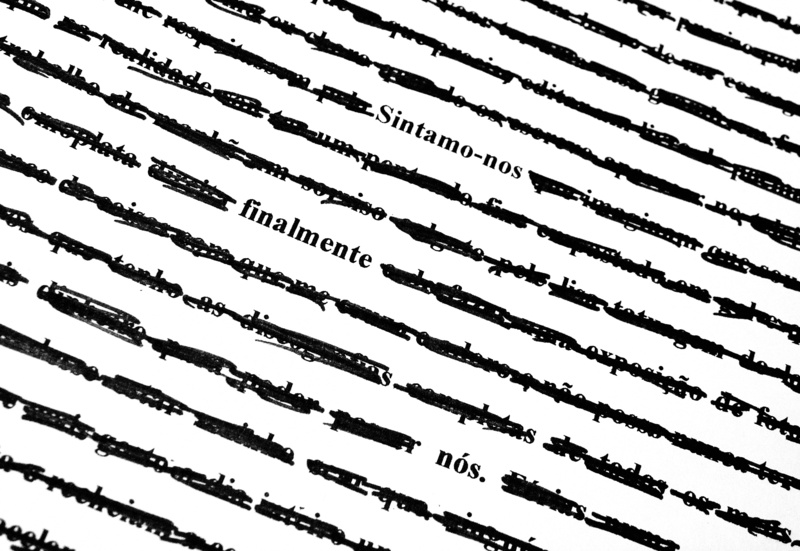conduzo há tanto que já me não lembro de onde partimos.
ávidos de asfalto, os faróis rasgam a escuridão. iluminam o desfile matemático do traço descontínuo. só o ruído incessante do motor me prende ainda à realidade.
a meu lado ela dorme, a cabeça pendendo ligeiramente na minha direcção. os sapatos tombados diante dos pés tão finos. descaída pelo braço, a alça do vestido. negro como as pálpebras esborratadas pelo rimmel.
uma tranquilidade aparente fá-la esquecer a angústia com que arrancava a roupa às gavetas e a amarrotava na mala. os dedos trémulos. enquanto continha o choro. antes que fôssemos ouvidos.
sinto ainda o ímpeto com que me tomou a mão e a estreitou com força.
“vamos?…”
a voz embargada, como que à espera da certeza de termos já ultrapassado o ponto sem retorno.
toco-lhe os antebraços abandonados no colo. levemente. vamos. prometo-lhe.
conduzo há tanto que já me não lembro de qual o destino.